Na manhã de 28 de outubro de 2025, a Operação Contenção deflagrada pelo governo do estado do Rio de Janeiro atingiu os complexos da Complexo do Alemão e da Complexo da Penha e resultou em pelo menos 121 mortos, incluindo quatro agentes de polícia. A ação mobilizou cerca de 2.500 policiais, helicópteros, veículos blindados e drones, e foi classificada pelas autoridades como a maior e mais letal da história do estado.
Do ponto de vista político-partidário, a operação expressa com clareza os contornos contemporâneos da governança da segurança pública no Brasil: o governo estadual, sob a liderança do governador Cláudio Castro, apresentou a operação como parte de uma “guerra ao crime” — “o mais importante combate ao avanço da facção Comando Vermelho”, segundo seu pronunciamento. A narrativa é fortemente legitimada pelas correntes políticas que defendem linha dura e ampliação do aparato repressivo como forma de obter votos e demonstrar eficácia frente à criminalidade.
Essa instrumentalização da segurança pública como bandeira política reforça polarizações: de um lado, apoiadores que aplaudem a ação como necessária proteção ao cidadão; de outro, críticos que a veem como espetáculo de poder punitivo, usado com fins eleitorais e simbólicos mais do que estratégicos.
No campo da violência policial, a operação não apenas aponta para o uso de força letal em larga escala, mas também para o padrão acumulado de intervenções violentas em comunidades empobrecidas do Rio.
Em 2024, por exemplo, registraram-se cerca de 700 mortes em operações policiais no estado — quase duas por dia.
Organizações de direitos humanos, como a Human Rights Watch e o escritório da Nações Unidas para os direitos humanos, declararam-se “horrorizadas” com o número de vítimas e exigiram investigação eficaz para cada morte.
A designação oficial de “neutralizados” por parte das autoridades estaduais — em vez de “detidos” ou “feridos” — levanta a grave questão: em que medida estamos diante de operações de manutenção da ordem e em que medida se trata de uma política de extermínio camuflada?
Historicamente, a violência policial nas favelas cariocas tem raízes profundas: desde a incorporação das áreas periféricas à cidade-Estado, passando pela construção de uma lógica de “guerra contra o tráfico” que legitima militarização e seletividade. Casos como a Chacina do Jacarezinho (2021) e outras operações-massacre demonstram que o padrão se repete.
Sociologicamente, isso revela a reprodução de um mecanismo de controle social que atinge predominantemente corpos negros, pobres e moradores de favelas — grupos historicamente marginalizados.
A favela é ao mesmo tempo território de negação de cidadania plena e palco de enfrentamento entre o Estado e o crime organizado.
Autores como Loïc Wacquant já apontaram para a “estado de exceção permanente” nas periferias urbanas modernas, nas quais certos grupos são tratados como alheios à dignidade política plena e sujeitos a aparelhos de coerção.
No plano filosófico, interrogamos a legitimidade da força e a condição de exceção — temática cara a Giorgio Agamben, para quem a soberania se exerce no momento em que decide-se quem “pode morrer” sem que seja um assassinato oficial. Quando o aparato repressivo adentra as favelas com blindados e drones, impondo a morte com o selo da legalidade, questiona-se a linha entre proteção e opressão, entre justiça e violência de Estado.
Hannah Arendt, por outro lado, insistiria no vínculo entre dignidade humana, ação política e fragilidade dos seres humanos em face ao poder que mata em massa; a ação policial torna-se espetáculo de poder e negação da pluralidade, onde os corpos mortos não são reconhecidos em sua humanidade.
A operação revela ainda uma contradição que paira sobre todo o discurso de “segurança” no Brasil: o Estado que deveria garantir a vida passa a – exatamente – produzir mortes como resposta à criminalidade.
São os pobres que morrem, em favelas que não possuem privilégios. A segurança que o discurso promete aos ricos do asfalto se opera à custa da letalidade em bairros periféricos. Michel Foucault falaria de biopoder e necropolítica: o poder que decide quem vive e quem morre. O Estado que aplica a sanção letal nas margens reafirma a divisão interna de uma sociedade que trata uns como cidadãos e outros como descartáveis. Politicamente, as consequências são multifacetadas. A operação serve de vitrine para o governador e seu partido, em um momento em que discursos de choque com a criminalidade ganham apelo eleitoral. Ao mesmo tempo, ela alimenta um ciclo perene: repressão violenta, repercussão pública, críticas de direitos humanos, promessa de mudança, nova operação.
As forças partidárias exploram este ciclo como narrativa de “segurança pública forte” ou de “estado contra o oprimido”. A esquerda denuncia abordagem militarizada e injustiça estrutural; a direita celebra a ação como combate necessário.
Mas o que se dilui nessa disputa é a reflexão sobre políticas sociais, prevenção, educação e inclusão — temas que permanecem ausentes no debate visível e que constituem a raiz da exclusão que alimenta o crime. A favela como locus histórico de exclusão social e econômica — pobreza, ausência de infraestrutura urbana, segregação espacial — continua sendo cenário de guerra urbana onde o Estado ataca e não reconstrói; prende e não transforma.
O sociólogo Pierre Bourdieu ensinou que o habitus e o capital simbólico dos excluídos são secularmente moldados pela falta de reconhecimento e que os processos de criminalização e violência institucional reforçam a reprodução da desigualdade.
Em vez de romper esse ciclo, a operação reafirma-o: a polícia invade, mata, parte de uma lógica de contenção e não de emancipação.
Se aceitarmos que a legitimidade do Estado repousa no monopólio legítimo da violência — como definia Max Weber — perguntamo-nos: quando esse monopólio torna-se um instrumento de morte indiscriminada? A linha entre controle social e massacre se torna fluida. E quando o Estado decide eliminar em massa — “neutralizar” — sem transparência e responsabilidade, ele fere o pacto social e a democracia.
Para além dos números, há caras, corpos, famílias destruídas e favelas em pânico. O medo e a angústia ressurgem em comunidades que continuam a viver sob cerco permanente.
A operação de 28 de outubro não é apenas um episódio de segurança pública: é um espelho das tensões profundas entre Estado, poder, violência e exclusão. E se o objetivo era sinalizar poder e autoridade, a pergunta que permanece é: que tipo de autoridade é exercida num contexto em que a legalidade está imbricada com letalidade e onde as vítimas são justamente os que menos possuem voz?



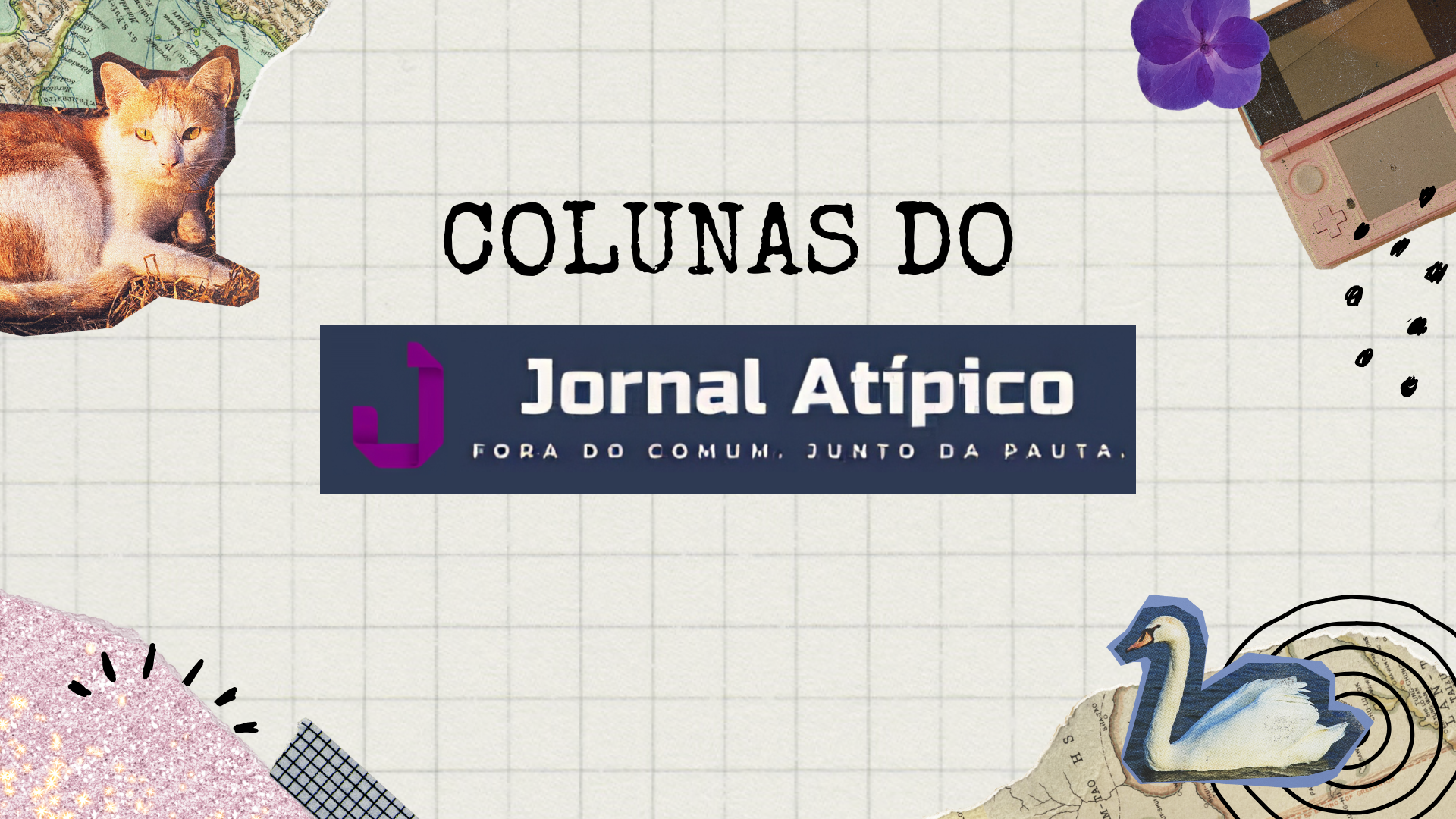
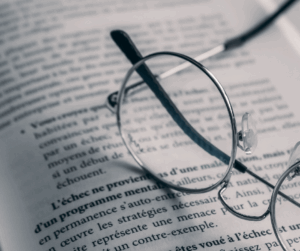

Publicar comentário