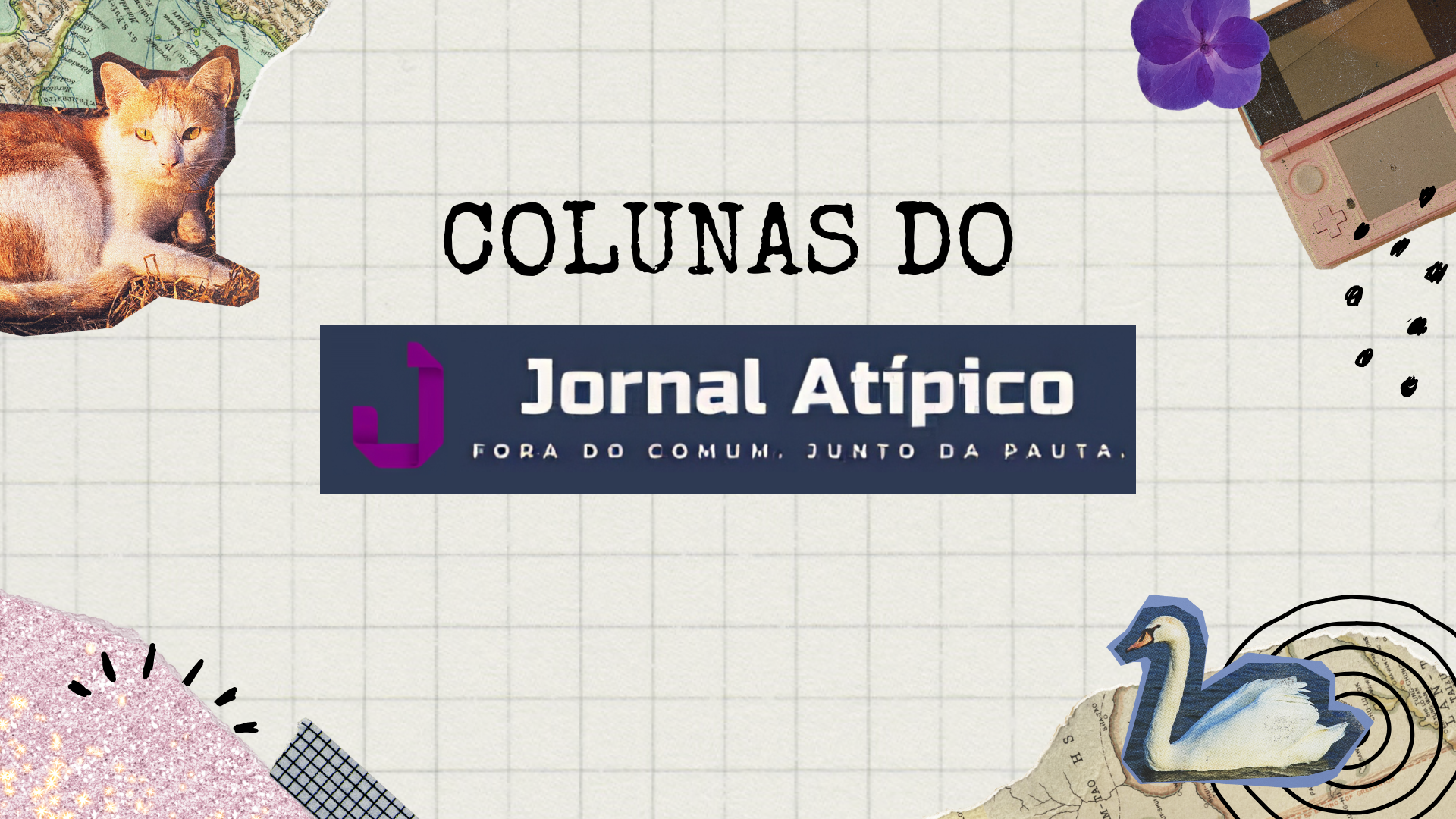
No Brasil de hoje, direitos viraram slogan de campanha e igualdade virou palavra de fachada. Estão nas faixas, nos discursos, nas postagens bem iluminadas — mas raramente aparecem na prática. O palco é democrático, mas os bastidores fedem. E o Congresso Nacional, que deveria ser a casa do povo, age cada vez mais como um condomínio fechado contra ele.
Não se trata de exagero retórico. Trata-se de constatação política. Quando o Parlamento passa a legislar prioritariamente para se proteger, blindar seus membros e neutralizar qualquer responsabilização, ele deixa de ser representação e passa a ser autodefesa corporativa. Como dizia Bertolt Brecht, “quando a injustiça se torna lei, a resistência se torna dever”.
A chamada PEC da Blindagem é o símbolo perfeito desse tempo. Uma proposta que não nasce da urgência do povo, da fome, do desemprego ou da desigualdade estrutural, mas do medo. Medo de investigação. Medo de consequência. Medo de responder pelos próprios atos.
É o Parlamento erguendo muros ao redor de si mesmo, como se dissesse: “daqui para dentro, a lei é outra”. Hannah Arendt já alertava que o autoritarismo não começa com tanques nas ruas, mas com a normalização do privilégio e a erosão da responsabilidade pública.
Na mesma lógica caminha a aprovação, na Câmara, de mudanças na dosimetria das penas, vendidas como “equilíbrio jurídico”, mas que, na prática, podem funcionar como mais uma porta de saída para crimes cometidos por quem já tem poder, dinheiro e bons advogados. No Brasil, a lei costuma ser uma teia: segura os pequenos, se rompe para os grandes.
Nesse cenário, figuras como Hugo Motta não surgem como exceção, mas como sintoma. Um político jovem no discurso, mas antigo nas práticas. Representa a continuidade de um Congresso que fala em renovação enquanto reproduz os mesmos arranjos, acordos de bastidor e prioridades invertidas.
Não é um ataque pessoal. É uma crítica política. Porque a democracia não se mede pela idade dos seus líderes, mas pelas escolhas que fazem. E as escolhas têm sido claras: proteger o sistema por dentro, enquanto o país sangra por fora.
A presença barulhenta de deputados da extrema direita bolsonarista em sua amplitude no Congresso aprofunda esse abismo. Eles não escondem o projeto: desacreditar instituições quando não as controlam, atacar direitos humanos como se fossem “excessos”, transformar minorias em inimigos imaginários.
George Orwell escreveu que “a linguagem política é feita para que mentiras soem verdadeiras e assassinatos respeitáveis”. No Brasil, discursos inflamados falam em “liberdade” enquanto defendem censura social, exclusão e violência simbólica. Falam em “povo” enquanto governam para poucos.
O resultado é o descrédito institucional. O povo olha para o Congresso e não se vê ali. Vê privilégios, escândalos recorrentes, autoproteção. Vê uma máquina que funciona muito bem para quem está dentro e muito mal para quem sustenta tudo do lado de fora.
Darcy Ribeiro já dizia que a crise brasileira não é um acidente, é um projeto. Um projeto que mantém desigualdades, naturaliza a injustiça e transforma a política em carreira, não em missão pública.
Esse ambiente não fica restrito ao Parlamento. Ele escorre para o cotidiano, para a fala pública, para o senso comum. Quando uma figura famosa como Zezé di Camargo faz declarações extremistas, desprezando direitos ou relativizando desigualdades, sendo misógino, ele não fala apenas por si. Ele ecoa um pensamento que foi normalizado.
O autoritarismo moderno não precisa gritar. Ele canta. Vai ao palco, ao podcast, à entrevista descontraída. E aos poucos, vai transformando preconceito em opinião, intolerância em “sinceridade”, ignorância em virtude.
Machado de Assis já ironizava um Brasil onde as elites mudam o discurso para que tudo permaneça igual. O que vemos hoje é isso: um país que finge debater democracia enquanto esvazia seu conteúdo.
Direitos não são concessões do Estado. Não são favores do Congresso. Não são slogans de campanha. São conquistas históricas arrancadas com luta, suor e sangue. Quando viram apenas palavras bonitas em discursos vazios, a democracia entra em modo de simulação.
A igualdade que não chega à periferia, que não atravessa a cor da pele, o CEP, o gênero, o prato de comida, não é igualdade — é propaganda.
O mais grave é que o povo vai sendo empurrado para o papel de figurante. Vota, assiste, paga, sofre — mas não decide. A política vira um teatro onde os mesmos atores trocam de figurino, mas seguem o mesmo roteiro.
E quando alguém ousa questionar, a resposta vem rápida: criminalização, deslegitimação, silêncio ou chacota.
Democracia não é decoração institucional. Não é prédio bonito, nem discurso ensaiado. Democracia é conflito, responsabilidade, transparência e consequência.
Um Congresso que se blinda não se fortalece — se afasta. Um Parlamento que teme o povo já não o representa. E um país que aceita isso como normal está abrindo mão do futuro.
Como escreveu Paulo Freire, “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor”. No Brasil de hoje, parte da elite política já realizou esse sonho.
Há algo ainda mais perigoso do que o discurso extremista: o silêncio cúmplice. Enquanto deputados da extrema direita gritam, muitos outros apenas concordam calados. O silêncio, nesse caso, não é neutralidade — é método. É a política feita por omissão, onde não se enfrenta o absurdo porque ele beneficia o sistema.
O Congresso brasileiro aprendeu a arte de não decidir sobre o que importa. A fome vira estatística, a violência policial vira “excesso pontual”, o racismo vira “mimimi”, a desigualdade vira paisagem. E enquanto isso, votações estratégicas acontecem de madrugada, em sessões esvaziadas, longe dos olhos da população. A democracia vai sendo desmontada sem barulho, como quem desmonta uma casa tijolo por tijolo, esperando que ninguém perceba até o telhado cair.
Michel Foucault alertava que o poder moderno não se exerce apenas pela repressão, mas pela normalização. Quando a injustiça vira rotina, ela deixa de chocar. E é exatamente aí que mora o perigo: quando o povo se acostuma a ser mal representado.
No Brasil, tudo parece legal — mas quase nada é justo. A lei existe, o rito é cumprido, o carimbo é carimbado. Porém, a ética pública evapora. O Congresso se escuda na legalidade para justificar decisões que aprofundam o abismo social. É o famoso “está na lei”, mesmo quando a lei serve para proteger os mesmos de sempre.
A PEC da Blindagem, a flexibilização da dosimetria, os acordos que esvaziam investigações: tudo isso segue o script da legalidade formal. Mas como lembrava Montesquieu, “uma coisa não é justa por ser lei, mas deve ser lei por ser justa”. Quando esse princípio se inverte, a democracia vira um simulacro.
Há uma diferença profunda entre representar o povo e ocupar o poder. Representar exige escuta, embates, renúncia a privilégios. Ocupar exige apenas estratégia, alianças e autopreservação. O que vemos hoje é um Congresso ocupado, não representativo.
Deputados que se dizem defensores da família ignoram crianças passando fome. Parlamentares que falam em moral cristã fecham os olhos para a desigualdade brutal. Políticos que clamam por ordem são os primeiros a driblar regras quando elas os alcançam. É uma moral seletiva, aplicada conforme o sobrenome, o cargo e o foro.
Nelson Rodrigues dizia que o Brasil tem vocação para o escândalo mal resolvido. Nada é plenamente apurado, nada é plenamente superado. Tudo fica em suspensão, como uma ferida aberta que o sistema prefere esconder com maquiagem institucional.
O problema já não é apenas a existência de deputados extremistas, mas o fato de que o sistema se adapta a eles, em vez de enfrentá-los. A democracia passa a ser capturada por aqueles que desprezam seus princípios, mas sabem usá-los a seu favor.
Usam a liberdade de expressão para atacar direitos. Usam o mandato popular para enfraquecer o próprio povo. Usam a fé, a pátria e a família como escudos retóricos enquanto concentram poder e renda.
Antonio Gramsci chamava isso de hegemonia: quando uma visão de mundo se impõe não só pela força, mas pela aceitação passiva. O Brasil vive hoje uma hegemonia da desigualdade naturalizada.
O maior crime desse Congresso não está apenas no presente, mas no futuro que ele bloqueia. Cada direito esvaziado hoje é uma porta fechada amanhã. Cada blindagem aprovada é uma mensagem clara: o sistema não foi feito para ser responsabilizado.
A juventude observa e aprende. Aprende que a política não compensa. Aprende que o jogo já está marcado. Aprende que honestidade é obstáculo e privilégio é regra. Esse aprendizado é devastador, porque destrói a ideia de pertencimento democrático.
Sem esperança, a democracia vira formalidade. E uma democracia sem esperança é terreno fértil para o autoritarismo aberto.
O Congresso brasileiro já não é espelho do povo — é um espelho quebrado, que reflete apenas fragmentos convenientes da sociedade. O que fica de fora é justamente o que mais importa: dignidade, justiça social, igualdade real.
Direitos não podem ser apenas palavras ocas em discursos bem ensaiados. Igualdade não pode ser apenas um capítulo esquecido da Constituição. Democracia não pode ser apenas um rito eleitoral.
Ou o Congresso reencontra o povo, ou continuará sendo, cada vez mais, o inimigo elegante de quem deveria representar.
E como já alertava Walter Benjamin, “nem mesmo os mortos estarão em segurança se o inimigo vencer”.
No Brasil de hoje, o inimigo não usa farda. Usa terno, microfone e regimento interno.


Faça um comentário