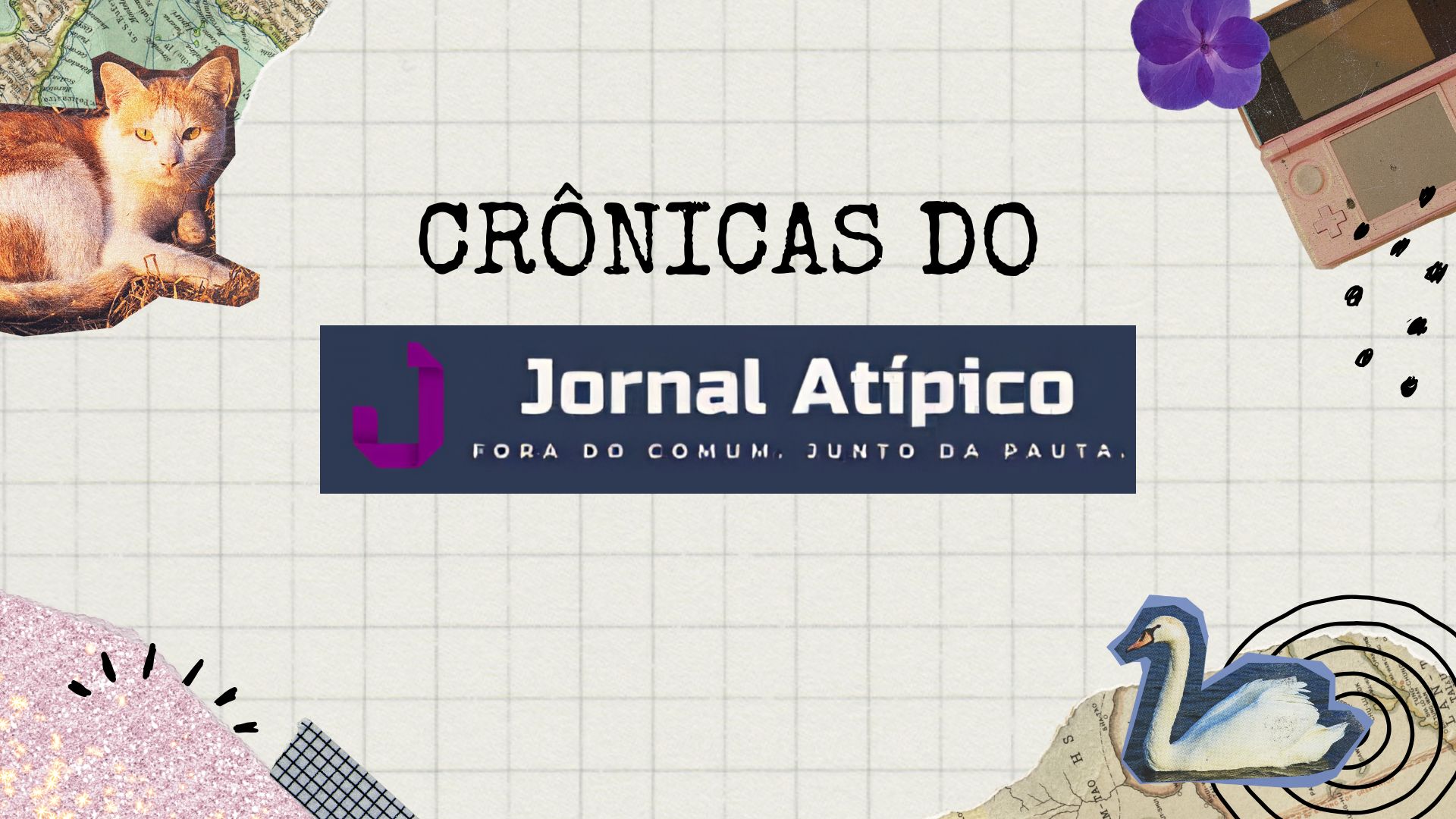
O ar na Estação da Sé era uma massa sólida de dióxido de carbono e suor humano, filtrada pelo hálito metálico dos trens que chegavam e partiam sem cessar. A cidade respirava ali embaixo, num pulmão subterrâneo saturado. Nas paredes de concreto bruto, a cada dez metros, havia uma pequena placa de latão fosco, sem inscrição, instalada à altura exata do ombro humano.
Ricardo não se lembrava de quando aquilo começara. Não havia avisos, decretos ou campanhas educativas. Ainda assim, São Paulo inteira parecia ter aprendido o gesto.
À medida que a multidão avançava pelos corredores, ocorria uma síncope coletiva — um soluço coreografado do fluxo. Cada pedestre, ao passar diante da placa, levantava discretamente a mão esquerda, dobrava os dedos e tocava o nó do dedo médio duas vezes no metal frio.
Toc. Toc.
Em seguida, quase sem mover os lábios, murmurava um sussurro que se confundia com o ruído ambiente:
— Em conformidade.
Alguns realizavam o gesto sem reduzir o passo, como se o corpo já o executasse por conta própria. Outros atrasavam um segundo, no máximo dois. Mas todos o faziam. Sem exceção. O som seco das articulações contra o latão, multiplicado por milhares, misturava-se ao roçar dos sapatos, ao chiado dos trilhos, ao zumbido elétrico da estação — um rosário urbano sendo rezado em uníssono.
Ricardo ainda guardava uma lembrança vaga do início. Naquele tempo, homens de terno escuro e crachá circulavam pela estação com uma precisão quase cerimonial. Tocavam o metal com rigor excessivo e pronunciavam as palavras com clareza artificial. Eram chamados, em voz baixa, de indutores. Desapareceram meses depois. O rito permaneceu. A cidade aprendera sozinha.
O peso da massa humana atrás de si era constante. Milhares de corpos avançavam como um único organismo cego, regulado por impulsos simples e repetidos. O pensamento de não tocar a placa surgiu-lhe como um lampejo — e foi esmagado imediatamente por um medo antigo, visceral, anterior à razão.
Não tocar significava romper o ritmo. Criar um vazio no fluxo. E vazios, em São Paulo, eram rapidamente preenchidos por olhares.
O desvio não era punido com violência, mas com algo mais eficiente: a suspensão invisível da pertença. O silêncio após as duas batidas seria notado. E o silêncio, naquela cidade, era sempre interpretado como recusa.
Ricardo levantou a mão.
Toc. Toc.
O latão estava morno, aquecido pelo contato incessante de milhares de nós de dedos.
— Em conformidade — sussurrou.
Uma calma pesada atravessou-lhe o corpo. Ele seguia existindo.
— Por que a gente faz isso?
A pergunta veio de trás, deslocada, quase obscena. Era a voz de um rapaz com mochila, rosto ainda não totalmente apagado pela cidade. Olhos atentos demais.
Ricardo não diminuiu o passo. Não olhou para trás. Sabia que o contato visual prolongado era o primeiro estágio da contaminação.
— É para a estabilidade do fluxo — respondeu, com naturalidade surpreendente. — Se alguém não faz, o sistema identifica um ponto de resistência. Resistência gera ajuste. É mais simples assim.
— Ajuste como? — insistiu o rapaz.
Ricardo tocou a placa seguinte.
Toc. Toc.
— Em conformidade.
Só então respondeu:
— Como sempre foi.
O jovem hesitou por três segundos — tempo suficiente para que os olhares laterais se voltassem para ele. Não eram olhares de raiva, mas de curiosidade fria, quase clínica. Olhares de quem observa um erro estatístico prestes a ser corrigido.
Sentindo o gelo da exclusão subir pela espinha, o rapaz estendeu a mão. Tocou o nó do dedo médio duas vezes. Murmurou as palavras. O alívio foi imediato, quase químico. Seus ombros relaxaram. Ele desapareceu dentro da multidão.
O Ministério da Coordenação compreendia bem a cidade. Descobrira que não era necessário vigiar todos, nem punir exemplarmente. Bastava introduzir o gesto certo no lugar certo. A infraestrutura fazia o resto.
O gesto era conhecido nos relatórios internos como um **Protocolo de Conformidade** — uma aplicação urbana e distribuída do antigo **Protocolo de Sincronia**. Não exigia supervisão contínua nem correção direta. Uma vez incorporado ao fluxo, o próprio cidadão se encarregava de preservá-lo.
A liberdade de Ricardo terminava exatamente onde começava o metal frio.
Ele aceitava isso com uma gratidão opaca. Enquanto houvesse placas para tocar e palavras para repetir, ele não precisaria decidir nada. O caminho estava dado. O fluxo pensava por ele.
Anos depois, já sem se lembrar de quando deixara de estranhar o rito, Ricardo percebeu algo novo: quando um turista distraído atravessava a estação sem tocar a placa, era ele — Ricardo — quem sentia o incômodo físico. Um vazio no peito, uma falha no compasso do mundo.
Certa vez, tocou o latão com força maior que o habitual.
Toc. Toc.
— Em conformidade — sussurrou, com convicção.
A cidade respondeu com seu ruído contínuo, satisfeito.
Ricardo sorriu, sem perceber. Já não era apenas um passageiro. Era parte do mecanismo que mantinha São Paulo em movimento — coordenada, eficiente e absolutamente vazia.



Faça um comentário