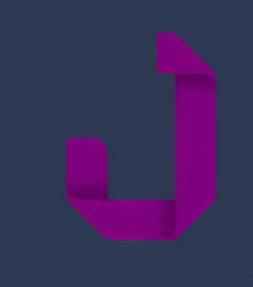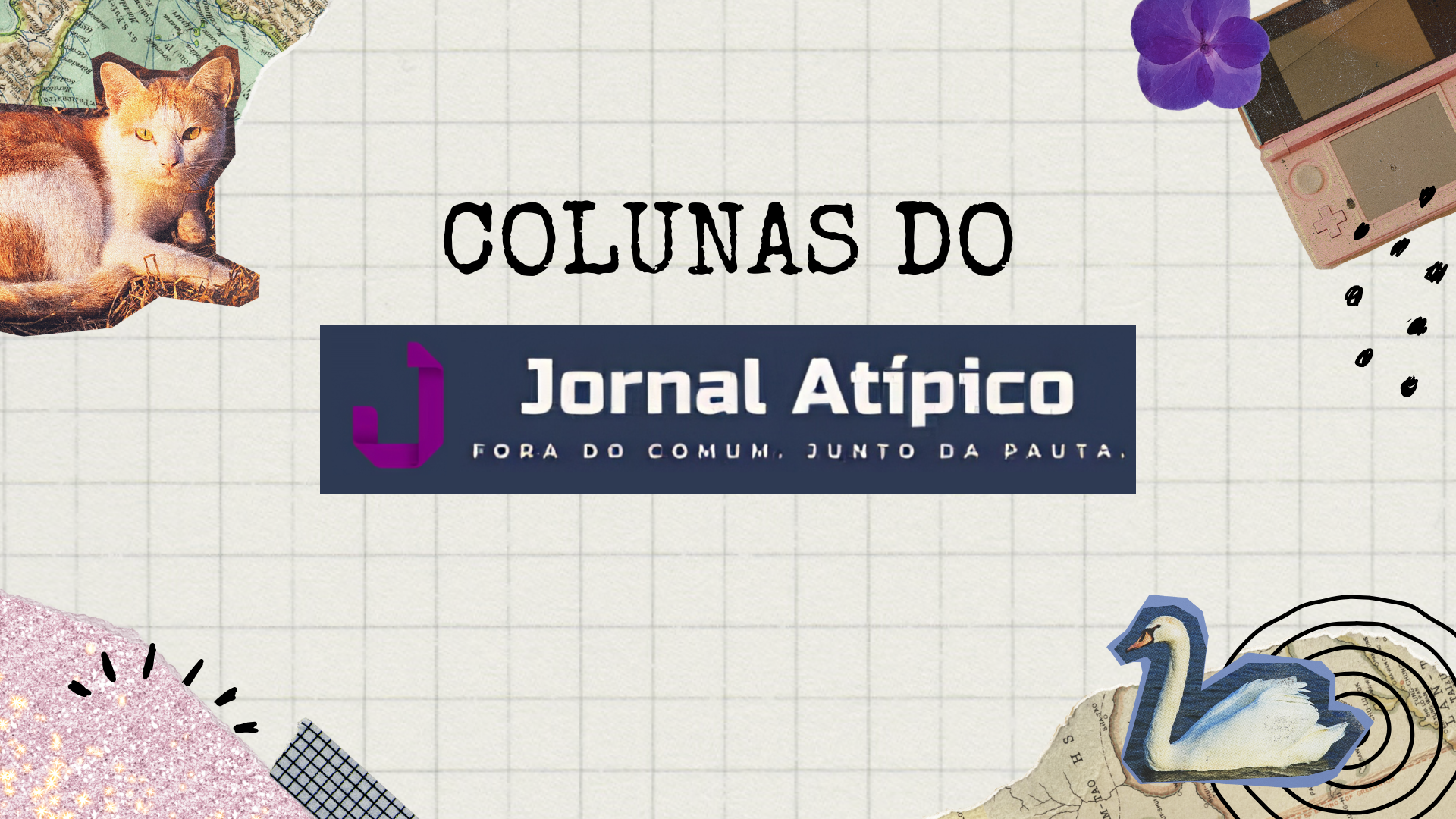Há décadas o Brasil se esconde atrás da ideia de “refundação”, “nova constituinte”, “mudança estrutural”.
O país vive essa obsessão cíclica, quase romântica, com a promessa de uma assembleia que finalmente arrumaria a casa.
Mas, quando olhamos para o cenário político recente, percebemos que o discurso pela “nova constituinte” não passa de mais um sintoma daquilo que Achille Mbembe chamaria de necropolítica: a administração estratégica da morte — física, simbólica ou institucional — como forma de governo.
Pensemos com calma: desde a Constituição de 1988, a chamada “Constituição Cidadã”, o Brasil viveu uma longa sequência de tentativas de deformar seus princípios, não pela via democrática do debate plural, mas pelo atalho do partidarismo tóxico, dos interesses imediatos e das disputas que não são políticas — são meramente eleitorais. Como diria Norberto Bobbio, “a crise da democracia é, antes de tudo, a crise dos seus atores”. E no Brasil, os atores interpretam um roteiro sem compreender a peça.
A Constituinte de 1987–88 foi marcada pela presença de movimentos sociais, intelectuais relevantes, entidades de classe e correntes de pensamento divergentes. Houve conflito real, tensão criativa, participação — ingredientes básicos para o surgimento de um pacto social minimamente legítimo.
Como nos lembram Raymundo Faoro e Florestan Fernandes, foi uma tentativa de escapar do patrimonialismo eterno, do Estado colonizador e da tutela oligárquica que atravessa séculos.
Mas o que vemos hoje?
Vemos políticos que clamam por “nova constituinte” como quem pede troca de figurino.
Não querem discutir pacto social; querem reconfigurar as peças do tabuleiro para ampliar poder, blindar interesses e recalibrar os espaços de mando.
A Constituição vira instrumento descartável, moldável, quase uma massinha institucional.
E aqui entra o ponto central: o Brasil não precisa de nova constituinte; precisa de pensamento político.
Mas isso é exatamente o que o ambiente partidário eliminou.
Os partidos brasileiros deixaram de ser expressões de projetos de país e se tornaram empresas eleitorais com CNPJ. Em vez de Gramsci e sua ideia de “projeto hegemônico”, temos marqueteiros.
Em vez de Hannah Arendt e a política como esfera da ação e da pluralidade, temos federações partidárias montadas a fórceps para sobreviver ao calendário eleitoral. O partido virou logomarca, slogan, arranjo momentâneo — não classe, não ideologia, não interpretação de mundo.
Essa deterioração não aconteceu do dia para a noite.
Vem desde acordos da Nova República, passando pela hiperfragmentação partidária dos anos 1990, pelo fisiologismo exacerbado dos anos 2000 e pela polarização tóxica da década de 2010
De um lado, grupos que desejam “intervenção” e Estado autoritário; de outro, grupos que romantizam o passado democrático sem enfrentar suas próprias contradições.
O historiador José Murilo de Carvalho já dizia que a democracia brasileira é “uma democracia sem povo”. Hoje temos algo ainda pior: uma democracia sem políticos, apenas operadores eleitorais ocupando o palco.
A necropolítica — conceito de Mbembe originalmente aplicado à violência colonial e ao genocídio moderno — encontra terreno fértil no Brasil. Aqui, ela se traduz na escolha deliberada de quem vive e quem morre, não só biologicamente, mas institucionalmente.
Quando se fala em “nova constituinte” em meio a crises políticas, não se está pedindo refundação; está-se pedindo aniquilação de direitos, de instituições, de equilíbrios frágeis. É a morte simbólica da Constituição Cidadã. É a morte política da noção de pacto. É a morte social de comunidades inteiras que não participam da conversa, mas sofrem as consequências da brincadeira.
Michel Foucault já dizia que o poder moderno administra vidas; Mbembe amplia e mostra que ele também administra mortes. E o Brasil não apenas administra — delega, terceiriza, normaliza.
Do Império à República Velha, da ditadura Vargas à ditadura militar, dos ciclos de ruptura aos de conciliação, a história brasileira tem um padrão: elites que chamam de “reforma” aquilo que é reciclagem de privilégios.
E isso se repete agora, na tentativa de desfigurar a Constituição de 1988 através de revisões fragmentadas, golpes sem tanques, erosões institucionais silenciosas.
A própria fragmentação partidária, que parecia ser pluralidade, tornou-se distorção: voto distrital, voto de legenda, fundo eleitoral, coligações, federações — rearranjos de regras que nada têm de projeto nacional.
Como lembraria Benedict Anderson, a nação deveria ser uma “comunidade imaginada”; mas o Brasil virou um condomínio imaginado, onde síndicos temporários brigam pelo controle do portão.
A ausência de projeto político é tamanha que discussões profundas sobre economia, saúde, educação, reforma agrária, sistema de justiça e modelo de Estado foram substituídas por guerras culturais vazias e disputas de curtidas.
Arendt chamaria isso de banalização do político.
Marilena Chauí chamaria de ideologia autoritária travestida de democracia.
Foucault diria que o poder está rindo de nós.
Em vez de uma Constituinte que represente o país real, o que temos é um país que virou caricatura de si mesmo.
As elites políticas discutem a Constituição como quem discute regras de condomínio — e os partidos se comportam como síndicos briguentos, não como dirigentes públicos.
A deturpação da ideia de constituinte no Brasil não é acidente. É projeto. Um projeto que funciona porque substitui política por partidarismo, visão de país por microinteresses, pacto social por necropolítica.
E, enquanto isso, a Constituição de 1988 segue existindo como um monumento que todos elogiam e poucos defendem.
Não é à toa que Darcy Ribeiro dizia que “a crise da educação no Brasil não é uma crise; é um projeto”. Talvez possamos parafrasear:
A crise constitucional brasileira não é uma crise. É um projeto — e dos mais perigosos.
A pergunta que fica é simples e brutal:
O Brasil quer realmente uma nova constituinte, ou só quer um novo disfarce para manter as mesmas estruturas de sempre?
Se não houver pensamento político — e não apenas partidarismo — a resposta será sempre a segunda.
E continuaremos, como sempre, repetindo nossa história como uma tragicomédia infinita.