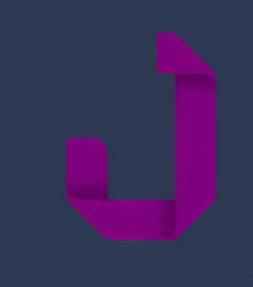Recusar o Deus que manda amar sob ameaça e a pátria que exige aplauso enquanto distribui bala e miséria é mais do que um gesto filosófico: é um ato político de autodefesa.
No Brasil, pensar já virou uma forma de dissidência, porque a regra tácita do jogo público é obedecer sem entender, repetir sem perguntar, escolher lados como quem escolhe time, mesmo sabendo que o juiz é comprado e o estádio está caindo aos pedaços. A política institucional brasileira, às vésperas das eleições de 2026, dá sinais claros de que a baixaria partidária não será um desvio, mas o próprio método. Não se disputa projeto, disputa-se medo.
Não se oferece futuro, recicla-se ressentimento. Como diria Spinoza, liberdade não é gritar mais alto, é entender por que obedecemos — e entender isso hoje implica encarar o espetáculo eleitoral como uma pedagogia da submissão.
A prévia do que vem aí já está no ar: candidatos travestidos de salvadores da pátria, discursos inflamados sobre moral, família e nação, enquanto os mesmos problemas estruturais seguem intactos. A fome reaparece com outro nome, a violência muda de estatística, o racismo troca de eufemismo.
A política vira uma rinha simbólica onde vence quem humilha melhor o inimigo. Sérgio Buarque de Holanda já alertava que nossa cordialidade é máscara, não virtude; por baixo dela mora o autoritarismo íntimo, esse desejo mal resolvido de mandar e obedecer. Em ano eleitoral, isso explode. O debate público se reduz a memes, fake news e indignações seletivas, e o eleitor é tratado não como cidadão, mas como consumidor de ódio.
Essa dinâmica não é acidental. Florestan Fernandes explicou que a democracia brasileira sempre foi incompleta, feita para funcionar sem povo ou apesar dele.
Quando Fanon diz que uma nação sem povo vira caricatura, o Brasil responde com entusiasmo: aqui a pátria costuma ser um conceito abstrato, manejado por elites políticas e econômicas que só lembram da população quando precisam de voto, sangue ou silêncio.
Ailton Krenak insiste que esse progresso patriótico passa por cima de alguém — e nas campanhas isso fica ainda mais nítido. O desenvolvimento prometido nunca chega à aldeia, à periferia, ao quilombo; chega apenas como discurso, como peça publicitária embalada por jingle e slogan.
A filosofia de rua, meio marginal, que não cabe em palanque nem púlpito, é justamente aquela que desconfia dessas promessas. Paulo Freire já dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor.
O mesmo vale para a política: quando não emancipa, ela adestra. Em 2026, veremos mais uma vez candidatos falando em nome do “povo” enquanto o tratam como massa de manobra, estimulando a lógica do nós contra eles, como se a miséria tivesse partido e a violência tivesse ideologia fixa.
A baixaria partidária não é falha de caráter individual, é estratégia. Quanto mais raso o debate, mais fácil governar sem ser cobrado.
Machado de Assis, com sua ironia cirúrgica, já tinha entendido esse teatro. Seus personagens políticos são mestres na arte de dizer nada com elegância. Hoje, a elegância foi substituída pela brutalidade, mas o vazio permanece.
Jessé Souza aponta que a elite brasileira construiu uma narrativa onde a culpa do fracasso nacional recai sempre sobre os mesmos corpos: pobres, pretos, nordestinos, indígenas. Em campanha, essa lógica se intensifica.
O candidato se apresenta como gestor eficiente ou justiceiro moral, mas jamais questiona a estrutura que produz desigualdade; prefere apontar bodes expiatórios, porque isso rende voto e like.
Enquanto isso, a religião volta a ser moeda política, como Russell já denunciava em outro contexto. Deus é convocado para legitimar projetos autoritários, e quem discorda vira inimigo da fé, da pátria, da família.
A mistura de púlpito e palanque cria um ambiente onde a crítica vira blasfêmia e a razão é tratada como ameaça. Marilena Chauí lembra que o autoritarismo brasileiro não se impõe apenas pela força, mas pelo consenso fabricado, pela ideia de que “sempre foi assim” e “não há alternativa”.
A eleição vira então um ritual de confirmação da ordem, não um espaço real de escolha.
Pensar contra isso, recusar os ídolos, entender por que obedecemos, é profundamente subversivo. Não porque ofereça uma solução mágica, mas porque desmonta o encantamento.
Em 2026, quando a lama discursiva subir, quando a baixaria virar manchete e a violência simbólica se normalizar, talvez o gesto mais radical seja não se deixar capturar. Ler, lembrar, comparar, desconfiar. Ouvir Krenak quando ele diz que o mundo não é mercadoria, ouvir Darcy Ribeiro quando ele afirma que a crise da educação não é crise, é projeto, ouvir Milton Santos quando denuncia a globalização como fábula.
Nos últimos anos, cientistas sociais mais recentes vêm descrevendo esse cenário como uma crise permanente da esfera pública. Wendy Brown, dialogando com o neoliberalismo global, ajuda a entender como a lógica de mercado colonizou a política: o eleitor vira cliente, o candidato vira marca, e a democracia se transforma em produto de curta duração.
No Brasil, isso se traduz em campanhas geridas como startups de indignação, onde dados, algoritmos e redes sociais substituem qualquer debate substantivo. Christian Dunker observa que o discurso político atual opera muito mais no registro da fantasia e do gozo do que da razão: é menos sobre resolver problemas e mais sobre oferecer um inimigo para odiar e um líder para idealizar.
Achille Mbembe, ao falar de necropolítica, fornece outra chave incômoda para ler o Brasil eleitoral.
Há vidas que importam menos, mortes que não geram comoção, territórios onde o Estado só chega armado. Em época de campanha, esses corpos aparecem como estatística ou ameaça, nunca como sujeitos políticos.
Silvio Almeida, ao tratar do racismo estrutural, mostra como essa hierarquia é mantida independentemente de quem vença a eleição. A retórica muda, os slogans se alternam, mas a engrenagem segue produzindo exclusão com eficiência quase burocrática.
Vladimir Safatle insiste que o medo é o afeto político central do nosso tempo, e campanhas eleitorais sabem disso como ninguém. Governa-se menos pela esperança e mais pela ameaça do caos, do outro, da perda. Nesse clima, a baixaria não é excesso, é linguagem oficial.
Pensar contra isso, recusar os ídolos, entender por que obedecemos, é profundamente subversivo. Não porque ofereça uma solução mágica, mas porque desmonta o encantamento.
Em 2026, quando a lama discursiva subir, quando a baixaria virar manchete e a violência simbólica se normalizar, talvez o gesto mais radical seja não se deixar capturar.
Ler, lembrar, comparar, desconfiar, Sueli Carneiro lembra que não há democracia possível sem enfrentar as desigualdades sociais e raciais que estruturam o país.
Nesse Brasil cansado de mitos, pensar já é um ato revolucionário o bastante. Não resolve tudo, não ganha eleição sozinho, mas impede que a gente aplauda enquanto apanha.
E talvez seja esse o primeiro passo para que, um dia, a pátria deixe de ser slogan e vire gente.